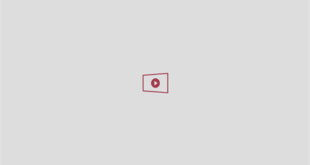Embrenhada na mata escura, Branca de Neve escapa momentaneamente da sanha homicida da Rainha Má após ser poupada pelo caçador que fora incumbido por ela de arrancar seu coração. Em 1937, no primeiro filme animado da história da Disney, a jovem era então atacada por figuras expressionistas, numa cena que entrou para o cânone do cinema. Em 2025, o momento se repete no remake Branca de Neve, que acaba de estrear mundialmente — mas com pouco frescor, muita computação gráfica e, sobretudo, uma mensagem politicamente correta desengonçada, ancorada na atriz Rachel Zegler, de ascendência colombiana. Meia hora mais longa que o original, a refilmagem com atores de carne e osso quer transformar aquela figura indefesa em símbolo de luta social e afirmação feminina.
A despeito do êxito ou fracasso que possa colher nas bilheterias, Branca de Neve deve ser lembrada no futuro por outra razão: a superprodução é o provável último suspiro de uma fase em que os estúdios Disney abraçaram com entusiasmo a agenda woke — termo que designa o ideário revisionista de ir contra tudo aquilo do passado tido como opressivo ou preconceituoso no presente. Uma causa que põe em debate questões legítimas, mas ameaça se esvaziar por seus excessos e contradições. Branca de Neve é um resumo do tipo de vespeiro que essa cruzada política se tornou — especialmente para uma potência com bilhões de lucro em jogo, como a Disney, que agora ensaia um desembarque emblemático do reino da diversidade em suas novas produções.

Até essa reviravolta, Branca de Neve parecia uma ideia genial: refazer um sucesso icônico que se tornou problemático à luz do progressismo de hoje por detalhes como o retrato submisso da personagem ou a notória cena do beijo — tão criticada por seu suposto viés abusivo, já que o príncipe a beija de modo “não consentido”. A nova filmagem teria o condão de limpar toda essa barra ao abraçar premissas da correção atual: além de ter sangue latino, a nova princesa revela-se uma mulher guerreira que luta contra a injustiça social e é muito dona de seu nariz.
Antes mesmo da estreia, porém, a Disney sentiu o peso de um fenômeno que se tornou impossível ignorar: o potencial desgastante de entrar na mira das famigeradas “guerras culturais”, que opõem direita radical e liberais nas redes. Logo de cara, o filme irritou a ala conservadora americana por lances como as entrevistas em que Rachel Zegler enalteceu a visão política do novo filme sobre as mulheres e a diversidade — e, de quebra, detonou o recém-empossado Donald Trump.

Ironicamente, nem aqueles a que a Disney desejava agradar na outra ponta ideológica saíram em sua defesa. O ator Peter Dinklage, de Game of Thrones, questionou a decisão de propagar uma história sobre “sete anões” subservientes. O estúdio ouviu e trocou o grupo por um septeto de criaturas mágicas, mas foi logo atacado por extinguir postos de trabalho para atores com nanismo. Com problemas por todos os lados, a Disney tomou uma decisão radical: escondeu Branca de Neve o quanto pôde até a estreia, limitando seu evento de lançamento aos Estados Unidos.
Em resumo: a onda woke passou de oportunidade de ampliar o público e lustrar sua imagem a um pepino para a companhia — que desde 2015, com o bem-sucedido remake de Cinderela, vinha ampliando as nuances raciais e de gênero em suas produções. A empresa foi firme ao defender Halle Bailey, atriz negra que viveu A Pequena Sereia (2023), de infames ataques racistas — e dobrou a aposta na revisão de seus personagens ao escolher Zegler para o papel da alva Branca de Neve. Mas o clima pesou com a briga com o governador da Flórida, o conservador Ron DeSantis, que cortou benefícios a seus parques pela oposição da Disney a uma lei que proíbe menções à homossexualidade nas escolas — e a eleição de Trump foi a senha para seu desembarque do woke. “Nossa missão primária é entreter”, vem repetindo seu CEO, Bob Iger, dando a entender que a agenda afirmativa não é mais o foco. De forma significativa, os disclaimers que alertavam sobre a incorreção de cenas de antigas produções agora foram amenizados para se adequar à era Trump.

Os efeitos dessa guinada já estão aí. Na série Ganhar ou Perder, recém-lançada no Disney+, uma personagem adolescente trans teve sua trama removida após executivos concluírem que “pais preferem discutir certos tópicos com seus filhos sob os próprios termos”. O enredo de uma jovem cristã, por outro lado, foi mantido — e o fato de a pequena Laurie ser a primeira personagem religiosa em produções da Disney em duas décadas foi comemorado por conservadores até no Brasil. Além disso, o estúdio prepara o lançamento do live-action Lilo & Stitch sem acenos aparentes à correção política. Ao contrário: a autenticidade étnica já é questionada, pois a atriz Sydney Agudong, de ascendência filipina, foi contratada para viver a nativa Nani no lugar de uma indígena havaiana de fato. E os alienígenas Pleakley e Jumba — que praticavam cross-dressing para se disfarçar na animação original — agora assumem formas masculinas “cis”. Assim como a maçã da Branca de Neve, a magia do entretenimento foi envenenada pela polarização política — e vai dar um trabalho daqueles achar um antídoto.
Publicado em VEJA de 21 de março de 2025, edição nº 2936