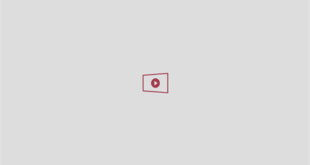Engravidei aos 32 anos. Foi um período de descobertas, troca de informações e muito amor, mas também de questões práticas, como o parto. De três irmãs, fui a única a nascer pelo processo normal, com auxílio de fórceps, procedimento invasivo para a época. Por isso, inicialmente, pensei em cesárea. No entanto, depois de pesquisar muito, acabei me interessando pelo parto natural e humanizado. Procurei uma especialista que defendia o “nascer com amor”, exatamente o que desejava. Fizemos o curso preparatório, contratei uma doula e uma enfermeira.
Era madrugada quando comecei a sentir contrações e entrei em trabalho de parto. A doula só chegou pela manhã, e a enfermeira, ao verificar minha baixa dilatação, simplesmente foi embora. Permaneci naquele estado, com dores intensas, assustada e sem compreender o processo. E a médica não aparecia. Na manhã seguinte, liguei para minha ginecologista pedindo para ir ao hospital, pois decidira pela cesárea. A equipe pedia calma, mas eu já estava exausta, ansiosa, sem dormir, sem forças. No hospital, aplicaram anestesia local para amenizar a dor, que durou do meio-dia às 21h. A equipe estava cansada, com uma pessoa dormindo no sofá. A situação estava fora de controle.
Cheguei a 7 centímetros de dilatação, mas a bolsa não rompia. Já estávamos na segunda madrugada quando a médica decidiu usar o kiwi (extrator obstétrico a vácuo). Puseram um funk para “animar” o ambiente e, para retirar minha filha, ela aplicou uma força descomunal no instrumento, com os pés apoiados entre duas camas e mais duas pessoas auxiliando. Dizia: “É um crossfit”, enquanto eu estava à mercê delas, manipulada de forma abusiva.
Novamente pedi cesárea, e uma delas respondeu: “Você vai desistir?”. Senti-me ainda mais desrespeitada, até que o kiwi saiu com um pedaço de cabelo e sangue da minha filha. Entrei em pânico, confusa mentalmente, impotente e violentada naquela situação. Culpei-me por não ter feito a melhor escolha para a Liz, que já mostrava sinais de sofrimento, e por ter confiado naquela médica, que se tornava cada vez mais inflexível, forçando o aparelho mesmo com a sala repleta de sangue e a equipe exausta. Nesse momento, retiraram Flávio (meu companheiro na época) da sala, aumentando minha angústia. Por volta das 2h, consegui atender minha mãe, que não parava de ligar. Contei que meu parto gentil havia se transformado em um circo de terror. Ela foi enfática: “Você vai para a cesárea agora”.
Suas palavras me ajudaram a sair daquela confusão mental e exigir a cesárea. Veio outra médica, Ana Fialho, que disse: “Vamos para a cesárea”. Liz nasceu em 22 de abril de 2018 e ficou menos de um minuto comigo. Apenas quando retornou, viva e adormecida, consegui descansar um pouco daquela provação de 36 horas. Ela estava com ferimentos na cabeça, e eu me sentia culpada, temendo possíveis sequelas causadas por esse “parto humanizado” forçado. Nos primeiros dez dias, levei a bebê a quatro pediatras diferentes. Precisava ouvir daqueles profissionais que ela não teria sequela. Passei por um longo período de negação, mas consegui superar com o apoio da minha família e com terapia. Não utilizei medicamentos; minha cura veio através da fala.
Hoje, sou grata por minha filha ser saudável e por conseguir tocar minha vida, transformando o sofrimento em aprendizado. Tive que organizar meus sentimentos e entender que preciso me ouvir. Ser mãe da Liz é a melhor coisa que poderia ter me acontecido, mas nunca mais passarei por tal violência. Percebi a importância de valorizar nossas qualidades femininas — intuição, emoções e convicções. Hoje compreendo que é assim que deve ser.
Juliana Didone em depoimento a Simone Blanes
Publicado em VEJA de 4 de abril de 2025, edição nº 2938