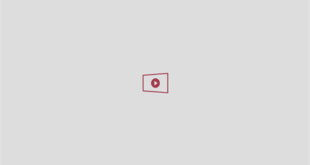Existe mesmo uma revolução do common sense, como sugeriu Trump? Ou se trata apenas de uma jogada de retórica? Uma matéria no Le Monde garante que é retórica. Sua posição seria apenas “conservadora”, e a prova disso é aquele perdão aos invasores do Capitólio. Cada um tem uma visão, aí. Biden não poupou os baderneiros, mas mandou perdoar os parentes. E David Brooks parece continuar achando que ele é um modelo da velha e boa moralidade americana. De minha parte, intuo que a ideia de common sense não tem muito a ver com decisões no varejo da política. Mudar o nome do Golfo do México ou aplicar essa ou aquela tarifa sobre carros elétricos chineses. O common sense é um tipo de sabedoria difusa, que por vezes alguém consegue capturar no ar. Tom Paine fez isso com seu panfleto famoso, que incendiou os Estados Unidos logo antes da independência, dizendo que já não era mais o tempo da “prostituição recuperar sua inocência”, dando um sentido de urgência à revolução. Morreu solitário, pois seu tempo havia passado. É ótimo que seja assim. Com Trump talvez não seja diferente. Ele capturou algo no ar, e por isso se tornou um dos presidentes mais populares da história recente da democracia americana.
Common sense diz respeito a uma certa maneira de lidar com o mundo político. No caso de Trump, diria, um certo irredentismo. A recusa de levar muito a sério o estamento político, de opinião, e uma rara capacidade de se conectar ao “homem comum”. O tipo bronco, desprezado pela elite intelectual e dito como um “conservador”. Tipo que em regra é um zé-ninguém institucional, sem sindicato, distante da academia e irrelevante para o The New York Times. Mas que ganhou um enorme poder com a migração do debate público para a internet. O mundo de Joe Rogan e dos podcasts, onde um guri de 18 anos, Barron Trump, por acaso filho do candidato, se torna o consultor digital do futuro presidente. Martin Gurri antecipou a tendência em seu livro A Revolta do Público, lançado há sete anos. “A tecnologia”, escreveu ele, “inverteu o equilíbrio da informação entre o público e as elites que comandam o governo, os partidos e a imprensa”. Gurri está certo. E isso explica boa parte da brabeza de uma certa elite. Compartilhar o poder, escutar coisas que doem nos ouvidos, observar “essa gente”, como tantas vezes escutei, chegando ao poder não é propriamente uma experiência agradável. Ao menos para os que se acostumaram a achar que eram os donos da democracia.
Qual seria exatamente o conteúdo da revolução do common sense? Uma definição universal sobre isso seria risível. O common sense evolui com o tempo e ajusta seus sinais, a cada geração. Por ora, as decisões do novo governo dizem que a lei deve ser igual para todos. Se alguém entrou ilegalmente no país, deve ir embora. Dizem também que o governo deve funcionar para facilitar a vida das pessoas, não atrapalhar. Daí Musk e a prometida reforma do setor público. E mais: que é preciso uma cultura fundada no mérito e sem discriminações (color-blind). Não é pouco e não parece haver nada no common sense que diga exatamente como essas coisas devam ser feitas. Mas a visão geral parece clara. Em uma de suas decisões mais duras, Trump revogou o ato do presidente Lyndon Johnson, de 1965, que nos últimos sessenta anos incluiu ações afirmativas para minorias nos contratados federais. Em 2023, a Suprema Corte já havia ido por essa linha, vedando a discriminação racial como critério de ingresso nas universidades. Na visão do presidente da Corte, John Roberts, as discriminações envolviam “estereótipos” e contradiziam um princípio básico da vida americana, de que o pertencimento a um gênero ou raça não pode ser usado contra ninguém. A ideia-força de que cada um deve ser julgado pelos “desafios que soube superar e lições que soube aprender”. Como um indivíduo, não como membro desse ou daquele grupo. Um sentido de igualdade que ninguém expressou melhor do que Martin Luther King, dizendo sonhar com um país em que “ninguém fosse julgado pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter”.
“Há o cansaço de uma certa elite e sua engenharia identitária”
A intuição aqui é clara: a recusa da captura de uma ideia generosa — de que todos são iguais em direitos e consideração — pelo ativismo e pelos grupos de pressão, que reintroduzem, pela porta dos fundos, tipos variados de discriminação. E com eles novas formas de exclusão e ressentimento. Quem expressou isso com uma discreta beleza foi a socióloga Arlie Hochschild, em seu Strangers Their Own Land. Ela se mudou para a pequena cidade sulista e por lá ficou durante alguns anos buscando entender a “alma” do conservadorismo americano. Não o conservadorismo dos intelectuais, mas o das pessoas comuns. Tipos que acordavam cedo para trabalhar, pagavam os impostos e há muito não se identificavam com a retórica das elites progressistas. Sua imagem: aquelas pessoas se imaginavam em uma longa fila a espera de sua vez no sonho americano. Em um certo momento, viam os outros furando a fila, seja desrespeitando, seja ajustando a regra do jogo a seu favor. E isso era inaceitável. O que Hochschild descobriu não foi tanto o conservadorismo, mas um traço definidor do common sense.
Common sense que não é conservador, se entendermos o conservadorismo como um tipo de “ideologia”. O que ele faz é admitir que você seja o que desejar, conservador ou progressista, desde que não queira usar da força para impor sua forma de pensar aos demais. Isso vale para o governo ou o mercado. Para as regras de admissão nas empresas e toda a engenharia social que anda na cabeça dos ativistas. E cuja pedra de toque é sempre a mesma: a imposição de uma régua muito particular de valores sobre um mundo essencialmente diverso. Nos tempos recentes, foi a esquerda que pautou a modelagem institucional, o controle sobre as instituições. Mas o vício pertence a qualquer ideologia. Com seus traços estranhamente comuns: o controle da linguagem, do humor e da arte, a destruição de livros, os sistemas de denúncias difusas e anônimas contra vizinhos ou colegas de trabalho. Tudo isso e um incômodo muito particular com a liberdade de expressão.
Se há de fato uma revolução do common sense, como à época em que Paine insistiu que os EUA estavam prontos para o autogoverno, o tempo dirá. Por ora, há uma mensagem que parece transcender o zigue-zague da política entre o cansaço com uma certa elite, e sua engenharia identitária, e a ideia de que a igualdade de consideração importa. Que a cultura do mérito e da responsabilidade individual importam. O delicado ponto de encontro entre a garantia de uma boa formação, para todos, e o princípio ético de que “ninguém será julgado pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter”. Mensagem que conecta duas épocas separadas por mais de meio século. Vai aí o discreto segredo do common sense. A busca sem fim pelo ponto de equilíbrio, por definição fluido e instável, em uma sociedade diversa. O respeito à diferença de verdade, e não de mentirinha. O direito à “busca pela felicidade”, que no fundo ninguém sabe bem o que significa.
Fernando Schüler é cientista político e professor do Insper
Os textos dos colunistas não refletem, necessariamente, a opinião de VEJA
Publicado em VEJA de 31 de janeiro de 2025, edição nº 2929